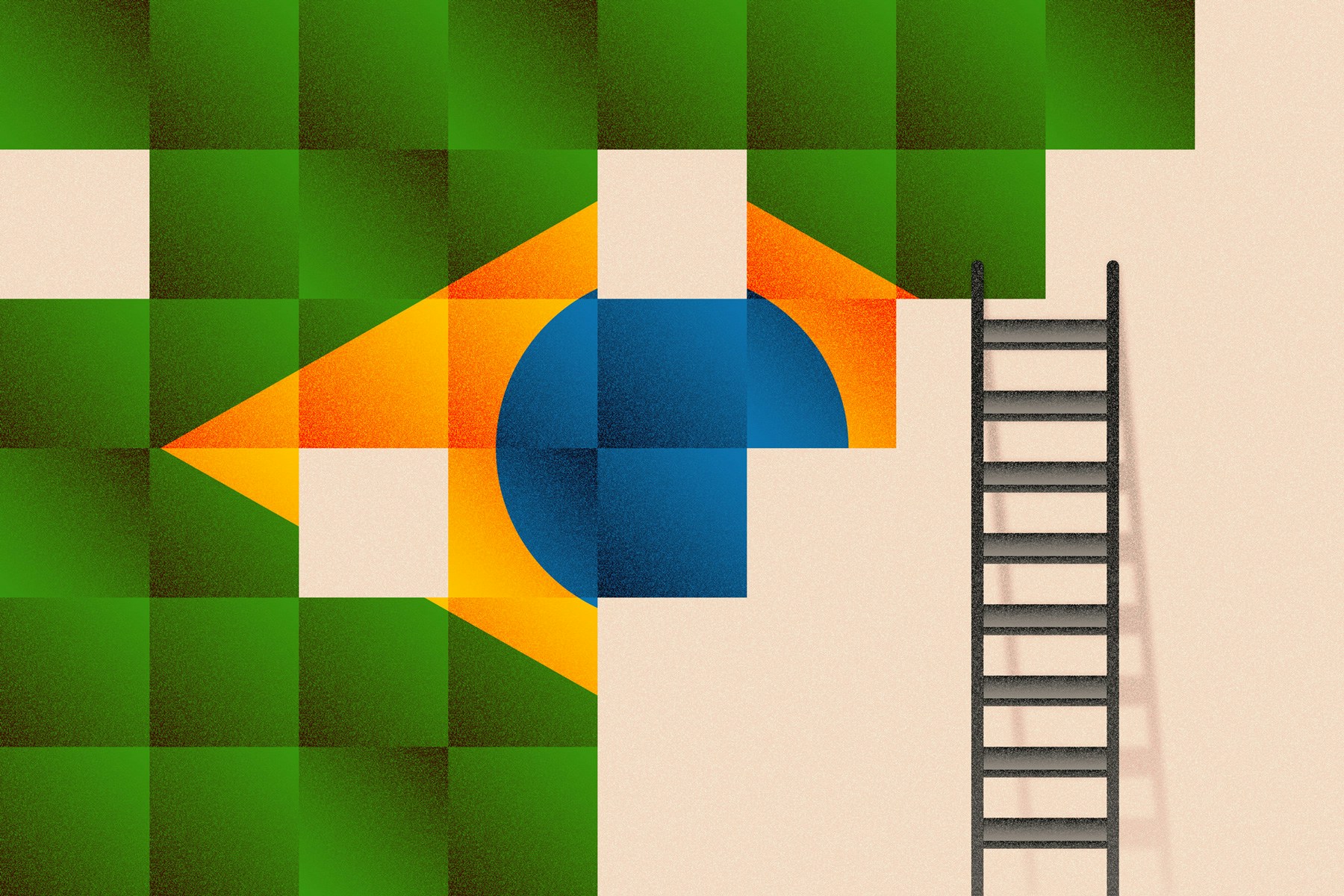
Ilustração: Rodrigo Bento/The Intercept Brasil
FOI EM UM BECO no Alto José Bonifácio, a barriga suja de picolé, que eu ouvi a palavra mágica pela primeira vez: DE-MO-CRA-CIA.
Mil novecentos e oitenta e quatro, morava na zona norte do Recife e via no jornal das oito os cartazes Diretas Já levantados por uma multidão. Na tela, a voz grave do apresentador sugeria que algo muito sério estava acontecendo. Tentava entender aquilo enquanto ouvia Madonna cantando Like a Virgin e Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Eu tinha dez anos e em algum lugar sabia que aqueles dois movimentos – a mudança política e a música pop – nunca mais passariam batidos por mim.
Os dois significavam possibilidades de revolução.
Assim foi: Tancredo eleito, Tancredo morto, o bigode latino de Sarney, Plano Cruzado, Chernobyl, He-Man, She-Ra, inflação, um sapato que tinha que durar o ano todo, meu pai contando os tostões. Aí, apenas oito anos depois daqueles milhões exigindo eleições diretas, era minha vez de estar nas ruas em meio a centenas de pessoas pedindo o impeachment de Fernando Collor. A barriga suja de picolé tinha dado lugar ao rosto pintado de verde e amarelo.
DEMO-CRACIA: quase 18 anos e agora eu tateava melhor aquela palavra.
Assim foi: Collor indo embora, Itamar Franco chegando, Bill Clinton eleito nos EUA, o grunge de Seattle pipocando, Raça Negra cantando Chitãozinho e Xororó. E teve os 111 homens mortos no Carandiru.
Aquele massacre no extinto presídio de São Paulo disparou o alarme: foi uma aula sobre um Brasil brutal que eu, inocente, pura e besta, até então desconhecia. Mais de uma centena de corpos nus, costurados e expostos em caixões abertos. Vimos as imagens dezenas, centenas de vezes. Fiz uma redação sobre as execuções e entreguei para Tomás, meu então professor de Literatura. Estava certa que haveria uma reação da população contra aquele banho de sangue.
Tomás acabou de ler o texto, levantou os óculos e olhou para mim. “Você acha mesmo que as pessoas vão brigar por essas mortes, Fabiana? Nada é mais perigoso que a elite e a classe média desse país, você vai ver.”
DEMOCRACIA: quando eu finalmente deixei de tatear a palavra, descobri que ela não era para mim. Essa clareza aconteceu enquanto eu via aqueles corpos costurados nos jornais e revistas; enquanto andava pendurada em ônibus lotados saídos da periferia; enquanto meu pai, fotografando a elite recifense, ainda contava os tostões; enquanto a minha mãe, que trabalhava há tanto tempo em um hotel de luxo, se mudava para uma casa sem reboco, janelas e parte do teto.
Nem eu, nem a gente nos morros, no centro, nos conjuntos habitacionais, nos presídios ou nas palafitas que bordavam o Recife fazíamos parte, de fato, desse regime que eu tão amorosamente defendia.
Quase trinta anos depois, estou aqui, usando uma máscara manchada de água sanitária e ouvindo, perplexa, muita gente repetir que “a pandemia revelou o abismo social do Brasil”.
Em que diabos de país estas pessoas moravam, eu não sei.
Assim é: ministro da saúde entra, ministro da saúde sai, o presidente corre atrás de uma ema segurando uma caixa de cloroquina, 7 milhões de testes para Covid-19 perdem a validade, quase 180 mil mortos pelo vírus, intelectuais repetem muito sérios que “precisamos recuperar nossa democracia”.
O fato de um ínfimo bicho descontrolado ter feito com que tanta gente percebesse só agora o quanto somos profundamente, historicamente e reiteradamente desiguais diz muito sobre nossa enorme desconexão entre classes. Mais: diz sobre uma empatia precária, acalentada à base de um ou outro “compromisso social” traduzido em cesta de Natal para a diarista ou o porteiro no final do ano. Diz também sobre como assimilamos mal o sentido de democracia.
Não, nós não precisamos tentar recuperar um regime que nunca foi capaz de proteger efetivamente a maioria da população brasileira.
Esta democracia precisa ser superada.
Na real, de que regime falamos quando a renda média de mais de 60% das trabalhadoras e dos trabalhadores do país, mais de 54 milhões de pessoas, era menor que um salário mínimo lá em 2018 – e agora, com a pandemia, essa mesma renda caiu em média 20,1%, indo para R$ 893?
De que democracia falamos quando, só este ano e no Rio de Janeiro, 12 crianças – todas negras – foram assassinadas por “balas perdidas”? Aliás: onde está a democracia em balas perdidas que acham preferencialmente um corpo preto? Ou em um país de maioria negra que sustenta um dos sistemas judiciários mais caros do mundo, formado por 85% de magistrados brancos?
É possível mesmo falar de democracia para a população indígena brasileira?
Nós vamos continuar a reduzir esse regime a um sistema de voto e representação política partidária enquanto filhos de domésticas caem dos prédios de suas empregadoras?
Consenso nunca fez parte do sentido lato da democracia: seja na política institucional ou fora dela, é saudável que existam perspectivas diferentes, heterogêneas.
Não faz muito tempo, até ensaiamos, como sociedade, soletrar bem a palavra. Instituímos leis que tornam as universidades mais pretas e indígenas, entendemos que uniões homoafetivas devem ser respeitadas legalmente, que miséria não é escolha nem destino e precisa ser dirimida pelo estado. Passamos a ensinar a história e cultura da África no ensino fundamental e médio. Aumentamos a renda da população mais pobre. Esse avanço foi, por tudo o que significava, atacado. Hoje, passa por processo de desmanche.
Agora, há todo um movimento, uma estratégia, para buscarmos uma democracia mais “ativa” fingindo, por exemplo, que #somos70porcento. Mas o fato de sermos uma maioria entendendo que autoritarismo não é a melhor saída para nos gerir enquanto sociedade não significa que estamos em um mesmo barco. Nossos salários, nossos gêneros, nossos bairros, nossas raças, nossas saúdes, nossas formas de viver e morrer há muito nos dizem isso. E mesmo se todos vestirmos amarelo, essas condições não vão mudar.
Insistir nesse totem é coisa de quem de certa maneira esteve protegido por esse sistema manco – gente com plano de saúde, alimentação satisfatória, uma segurança ao menos mediana.
Nessa mesma manobra de resgatar e sustentar uma democracia que sempre foi um lençol curto para a maioria da população brasileira, há também o entendimento de que o melhor para o país é que sempre exista um grande consenso sobre seus rumos – e consenso nunca fez parte do sentido lato da democracia: seja na política institucional ou fora dela, é saudável que existam perspectivas diferentes, heterogêneas.
Não esqueçam: foi o consenso que produziu uma de nossas aberrações históricas, a Lei da Anistia (1979) que concedeu o perdão “a todos quantos […] cometeram crimes políticos ou conexos com estes”, incluindo aí o time mais repressor do estado brasileiro. Hoje, somos uma das poucas “democracias” na América Latina que celebram uma ditadura. Foi também a ideia de consenso que nos brindou com o conceito absurdo de “democracia racial”.
Com minha máscara manchada de água sanitária, eu fico sinceramente torcendo para que o recente descobrimento do abismo social do país (a distopia como cotidiano) se traduza em um novo e coletivo soletrar da palavra: DE-MO-CRA-CIA.
É preciso encarar: ela não é possível em um país cuja concentração de renda só perde para a do riquíssimo Catar. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, nossa parcela 1% mais rica concentra 28,3% da renda total do país. Já os 10% mais ricos do Brasil concentram 41,9%.
Ela também não é possível em um lugar que nega seu passado escravocrata, autoritário, repressor; não é possível quando uma imprensa fere a si mesma se recusando a chamar as coisas – candidatos ou presidentes da República – pelo o que elas são.
Assim vai ser: um país que não quer superar seu passado, mas que antes aprenda a entendê-lo para não repeti-lo. País onde seja possível viver o presente e desenhar um futuro. País onde “o sonho fecunda a vida e vinga a morte”.
DE-MO-CRA-CIA.
Fabiana Moraes
theintercept.com






.jpeg)



.jpeg)
0 >-->Escreva seu comentários >-->:
Postar um comentário
Amigos (as) poste seus comentarios no Blog