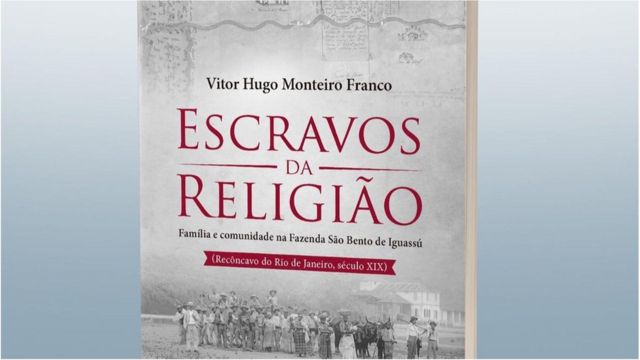João Pedro, 14, morto em 18 de maio de 2020; bala que o matou tinha mesmo calibre da usada pelos policiais que invadiram a casa em que ele brincava com os amigos
Já faz um ano desde que a professora de educação infantil Rafaela Coutinho Matos viveu os piores dias de sua vida. João Pedro, seu filho de 14 anos de idade, foi morto com uma bala de fuzil durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, enquanto brincava com amigos na casa dos tios.
O crime ocorreu no mesmo mês do assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos, cujo vídeo do policial branco com os joelhos sobre o pescoço do homem negro gerou protestos em todo o mundo.
No Brasil, a comoção em torno do assassinato de João Pedro foi tão grande que, no mês seguinte ao crime, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu em decisão liminar (provisória) a realização de operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia do novo coronavírus, exceto em "hipóteses absolutamente excepcionais", com anuência do Ministério Público.
As cenas do pesadelo real de Rafaela voltaram com ainda mais força na semana passada, quando uma operação policial em no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, terminou com a morte de 28 pessoas, e o título de mais letal operação da história.
Pela TV, as imagens do noticiário lembravam muito das cenas vistas por Rafaela no dia em que João Pedro morreu: o helicóptero da polícia sobrevoando a comunidade, as manchas de sangue e os buracos de bala pelas paredes. "Eu fiquei observando porque é a mesma polícia, a mesma polícia que tirou a vida do João", disse ela em entrevista à BBC News Brasil.
Em janeiro de 2021, a história de Rafaela e João Pedro foi contada em documentário exibido pela BBC News Brasil e pela BBC News. De lá para cá, a espera de Rafaela por Justiça apenas se prolongou, já que, desde então, nenhuma nova prova ou etapa da investigação avançou.
Se nos Estados Unidos o caso de George Floyd já foi solucionado - o ex-policial Derek Chauvin foi condenado pela Justiça americana e aguarda sentença a ser anunciada em junho - a morte de João Pedro continua sem punição. Rafaela conta que nada avançou desde outubro do ano passado.
Embora a bala encontrada no abdome de João Pedro tenha o mesmo calibre da usada pelos policiais que participavam a operação, de acordo com o laudo cadavérico, os três policiais investigados pelo crime continuam trabalhando normalmente não só em atividades de escritório, como é praxe em policiais investigados, mas na na Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), unidade de elite da Polícia Civil.
"Para nós mães que o Estado vem e mata nossos filhos, essa Justiça não acontece. Essa justiça é demorada, a impunidade está, sim, descarada", diz. "Porque a gente vê outros casos como o do Henry [Henry Borel Medeiros, de 4 anos, assassinado em março], em que não foi a polícia que cometeu o crime, e é um caso que já foi até solucionado em menos de um ano. A gente vê também o caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, que foi também no mesmo mês do de João, teve toda essa comparação e é um caso que está se resolvendo também. Essa impunidade aqui no Brasil é muito difícil. A gente vê outros casos sendo solucionados e quando envolve a polícia é sempre muito difícil ser solucionado."
Rafaela diz que ficou sem saber o que dizer quando Rebeca, a filha caçula de 5 anos de idade, perguntou porque a polícia matou o irmão dela
A BBC News Brasil fez contato, por telefone e por e-mail, com as assessorias das polícias Civil e Militar, bem como do governo do estado do Rio de Janeiro, mas não obteve resposta sobre as perspectivas de solução do caso ou sobre em quais operações os policiais suspeitos do crime já participaram este ano.
Além disso, a investigação sofreu alguns revezes: o principal deles foi a extinção, neste ano, do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp), que tem tem como principais atribuições atuar em "investigações penais relacionadas a crimes cometidos por policiais civis, policiais militares e agentes penitenciários".
Depois da publicação da reportagem, a assessoria de imprensa da Polícia Militar entrou em contato com a reportagem e informou que quem responde sobre o caso é a Polícia Civil, já que a ocorrência do caso João Pedro não teve participação da PM.
Há cerca de um mês, Rafaela diz que ficou sem saber o que dizer quando Rebeca, a filha caçula de 5 anos de idade, perguntou porque a polícia matou o irmão dela. "Foi até uma resposta difícil para eu dar, porque como você vai dizer que a polícia, que tem que proteger, tira a vida do irmão dela?"
Leia os principais trechos da entrevista, realizada por teleconferência em vídeo:
BBC News Brasil - O que você sabe da investigação sobre a morte de João Pedro?
Rafaela Coutinho Matos - As investigações estão paradas desde o dia em que houve a reconstituição [do crime], no dia 29 de outubro. De lá para cá estamos à espera do laudo da reprodução simulada, que até hoje não nos deram essa resposta. Conviver com essa espera, além de conviver com a dor da perda, é muito mais difícil. Você não consegue nem viver o seu luto, porque você tem que ir em busca por essa Justiça. Não consegue nem ter paz.
A gente aguarda uma resposta da Justiça, uma resposta do Estado, e até hoje não temos essa resposta. O que nós sabemos é que houve a extinção do Gaesp [Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, do Ministério Público do Rio de Janeiro], foi retirada essa força do Gaesp que investigava os policiais, e isso tudo dificulta muito as investigações também.
BBC News Brasil - Como tem sido a relação com a polícia? Vocês receberam alguma informação sobre as investigações?
Rafaela - A polícia em momento nenhum procurou a gente para falar nada. Os defensores que estão nos apoiando sempre mantêm a gente informado, eles falam que também estão cobrando do Ministério Público e da Polícia Civil essa resposta.
BBC News Brasil - Na primeira semana de maio o noticiário foi tomado novamente pelo tema das operações policiais, com a operação na comunidade de Jacarezinho que acabou com 28 mortos. E justamente em um período em que as operações estavam restritas pelo STF desde a morte do João Pedro, no ano passado. Como foi para você acompanhar esse noticiário um ano depois da morte do João?
Rafaela - Na grande verdade as operações continuaram, mesmo com essa proposta de não haver as operações durante a pandemia, só em casos que tenha que ter mesmo. Em momento nenhum parou. Mas lidar com mais essa chacina, porque foi uma chacina; eu fiquei observando porque é a mesma polícia, a mesma polícia que tirou a vida do João.
É a mesma polícia que vai lá e limpa a cena do crime, que forja tudo. Fiquei pensando: é a Core [Coordenadoria de Recursos Especiais, unidade especial da Polícia Civil] que estava nessa operação, e até mesmo os policiais que tiraram a vida do João Pedro eles poderiam estar nessa operação, tirando outras vidas. [Nota da redação: questionada, a assessoria de imprensa da Polícia Civil não respondeu de quais operações os policiais participaram desde a morte de João Pedro]
Então quando não há uma punição da Justiça, esses policiais ficam aí nas ruas soltos, não são punidos, e tirando outras vidas. Isso é muito triste.
Intervenções policiais no Rio de Janeiro deixaram um total de 1.245 vítimas em 2020
BBC News Brasil - Os policiais investigados que participaram da ação que resultou na morte do João Pedro estão trabalhando normalmente?
Rafaela - Continuam trabalhando normalmente. Não foram afastados em momento nenhum.
BBC News Brasil - Nós conversamos em agosto para um documentário da BBC, e na ocasião você falava sobre como a Justiça prioriza alguns casos em detrimento de outros, sobre a lentidão da Justiça. Hoje, um ano depois da morte do João, como você avalia essa falta de respostas até hoje sobre o crime?
Rafaela - Eu avalio que a Justiça para nós mães que o Estado vem e mata nossos filhos, essa Justiça não acontece. Essa justiça é demorada, a impunidade está, sim, descarada. Porque a gente vê outros casos , como o do Henry, que são pessoas que não foi a polícia que cometeu o crime, e é um caso que já foi até solucionado em menos de um ano.
A gente vê também o caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, que foi também no mesmo mês do de João, teve toda essa comparação e é um caso que está se resolvendo também. Essa impunidade aqui no Brasil é muito difícil. A gente vê outros casos sendo solucionados e quando envolve a polícia é sempre muito difícil ser solucionado.
BBC News Brasil - Na época o caso do João causou muita comoção, justamente quando começaram também os protestos em torno da morte do George Floyd no mundo tudo. Essa reação das pessoas mudou de lá para cá?
Rafaela - Eu não vi tantas mudanças, mas eu vi que quando o STF suspendeu as operações durante a pandemia eu percebi que outras vidas foram poupadas quando estava se cumprindo. Mas de uns meses para cá eu tenho visto que realmente têm ocorrido outras mortes, né.
Não vi muita mudança mas acredito que com a morte do João, por ter causado toda essa comoção, essa sensibilidade, as pessoas estão vendo realmente como é que a polícia faz quando entra nas favelas, quando entra nas comunidades. Eles não querem saber se a pessoa é trabalhador, se a pessoa não é envolvida com nada, eles querem mesmo é tirar a vida, eles querem mesmo é ceifar vidas. Onde o Estado teria que proteger e zelar pelas vidas, e não é isso o que tem acontecido.
BBC News Brasil - Na época do documentário da BBC, no ano passado, você contava muito sobre a rotina de reconstrução da sua família, em continuar a vida, em como isso afetou a sua saúde mental, do seu marido, da sua filha. Como tem sido esse ano?
Rafaela - Tem sido bem difícil, né. Que a gente pensa 'ah, tá muito recente, tá muito difícil'. Mas parece que quanto mais o tempo vai passando, mais difícil fica. Porque a saudade aumenta, a ausência acaba sendo maior. Por que com esta questão de se aproximar um ano também, são 365 dias, né.
Eu não me imaginava nem um dia conseguir sobreviver sem o João. Então a gente tem tentado recomeçar. Eu voltei a trabalhar, tem sido difícil, mas é um momento também em que você acaba ocupando sua mente um pouco. Mas na volta para casa a realidade volta. A gente tem tentado seguir, mas tem sido difícil. Até mesmo com a nossa filha Rebeca, mudança de comportamento. Ficam alguns traumas, tanto com a Rebeca, quanto comigo, quanto com o meu esposo.
Os protestos contra a morte de Floyd repercutiram muito além dos Estados Unidos
BBC News Brasil - A Rebeca tem hoje 5 anos, certo? Você conversa sobre o assunto com ela?
Rafaela - Olha, eu percebo que ela foge às vezes do assunto, se a gente quiser conversar com ela. Mas se ela ouve o nome do João Pedro, seja na televisão, ela logo para, ela quer ver, quer assistir. Mas às vezes ela me pergunta. Um mês atrás ela me perguntou por que a polícia matou o irmão dela. Foi até uma resposta difícil para eu dar, porque como você vai dizer que a polícia que tem que proteger tira a vida do irmão dela?
Daí o que veio a minha mente para falar no momento é que foi um erro que eles cometeram, eles erraram e eles não assumiram o erro que eles cometeram. Então às vezes quando eu vou falar 'ô filha, tá tão difícil', e ela fala 'por causa de João, né, mãe?' Mas ela procura o não conversar a respeito, mas fala algumas coisas de vez em quando.
BBC News Brasil - Atualmente, o que você espera da Justiça?
Rafaela - Eu espero que realmente a Justiça seja feita, que os culpados sejam punidos. Porque é isso que a gente espera, que eles vão a júri popular, que sejam presos, que sejam expulsos. Porque se eles cometeram o erro eles têm que ser condenados pelo erro que eles cometeram. Eles tiraram a vida de uma criança.
Quantas crianças mais vão ter que morrer e continuar essa impunidade? Eles fazem isso porque eles sabem que é a proteção de proteger esses policiais que cometem esses erros. Então esperamos sim a justiça, que eles sejam punidos.
- Ligia Guimarães -
- Da BBC News Brasil em São Paulo